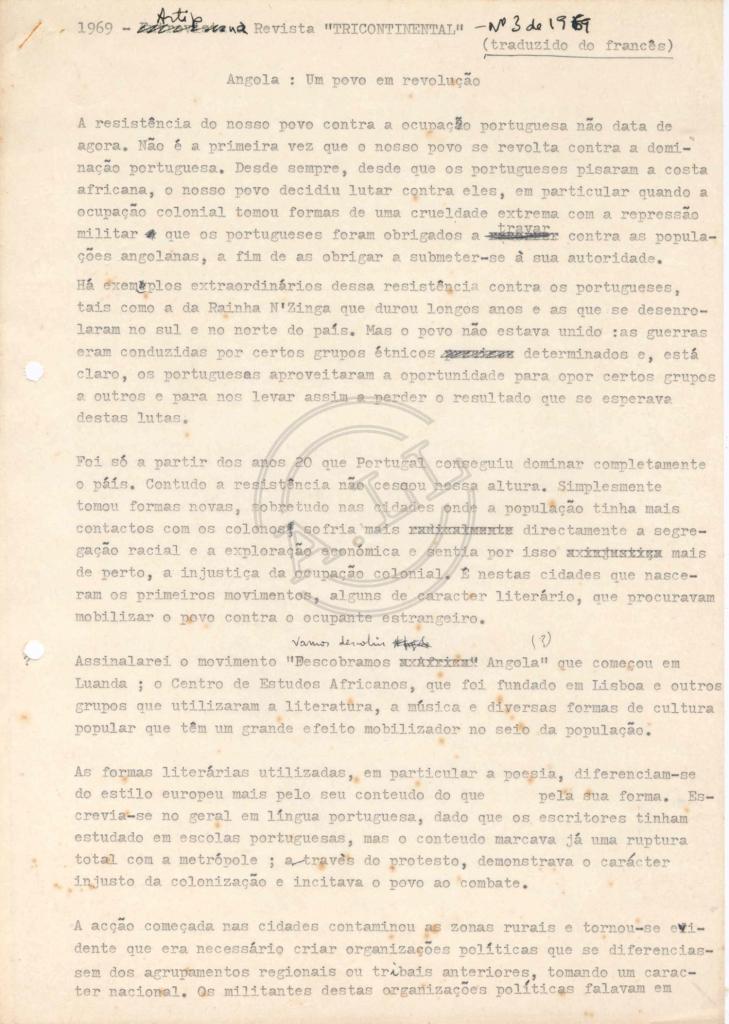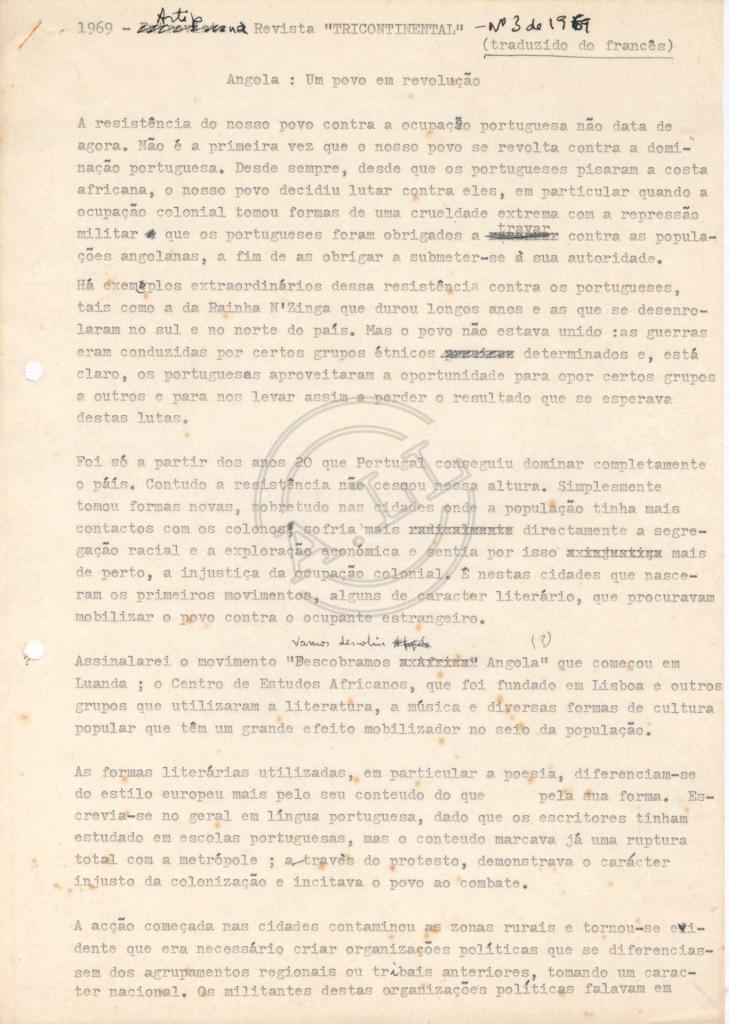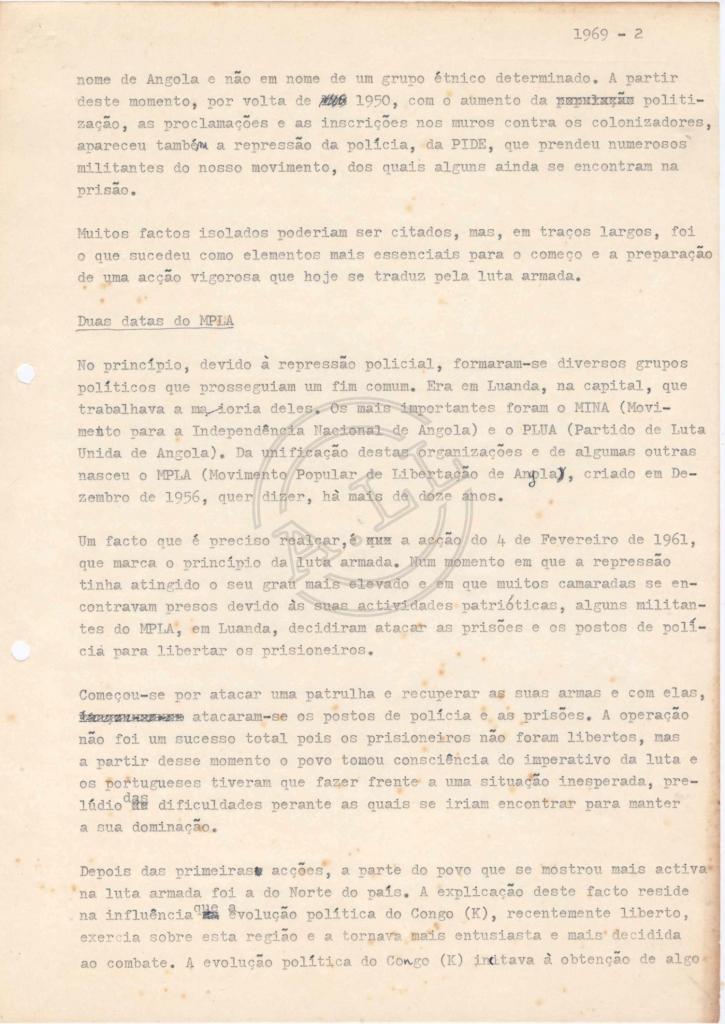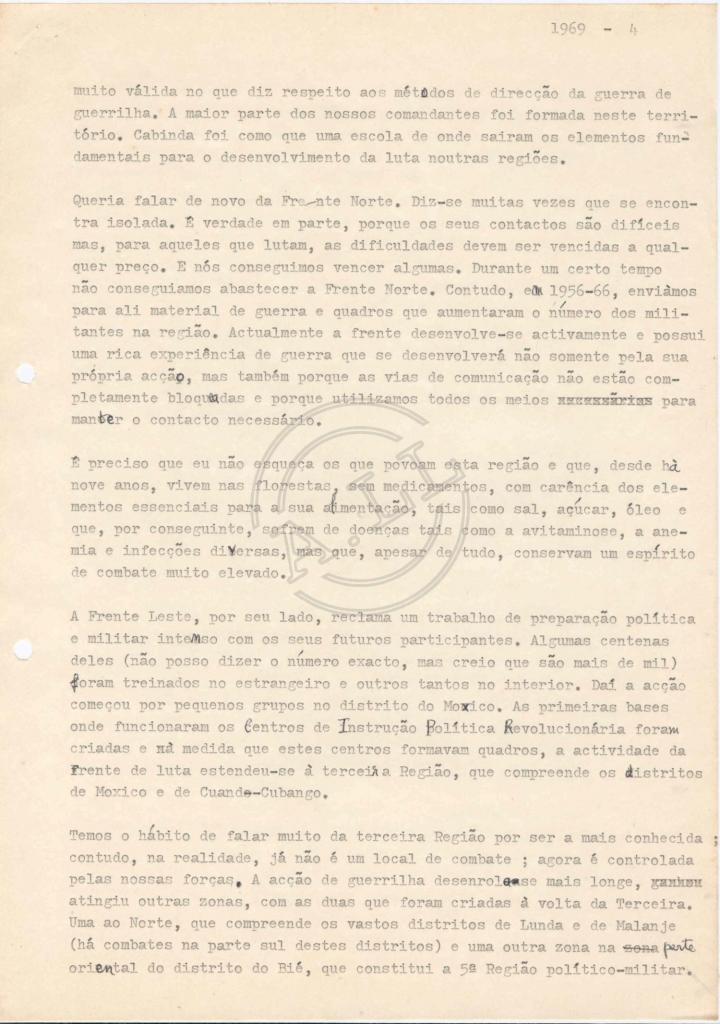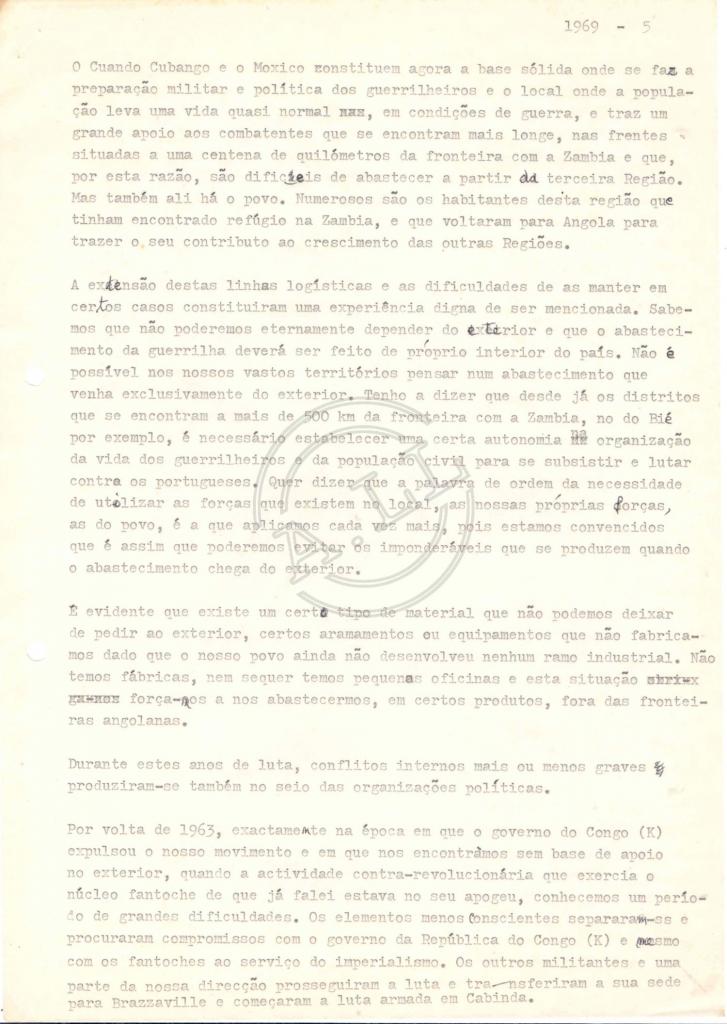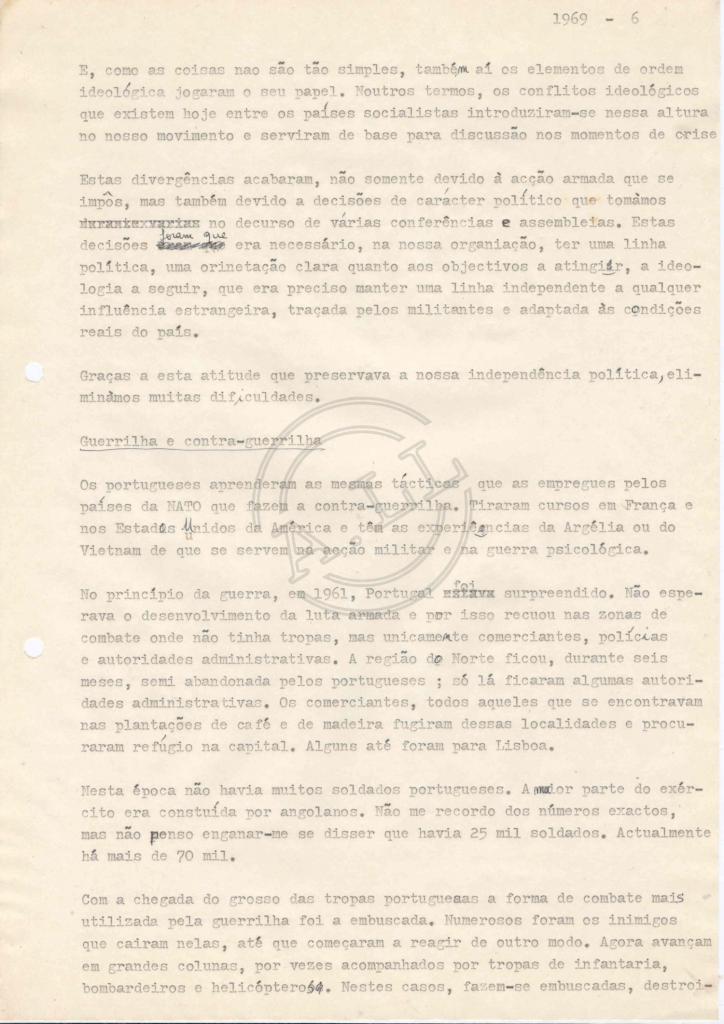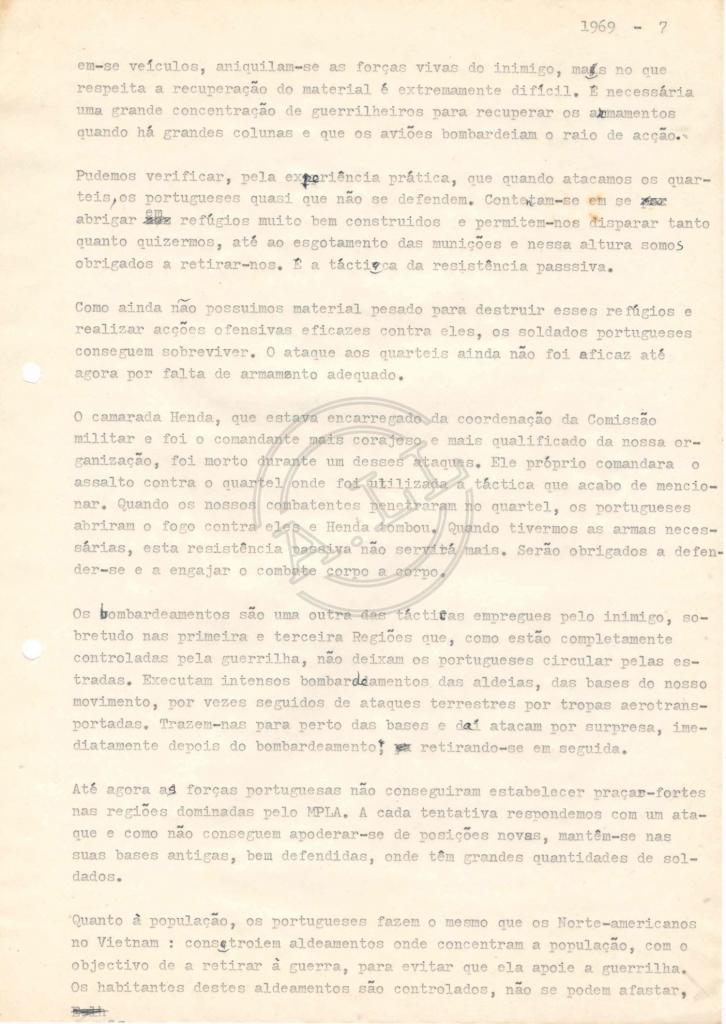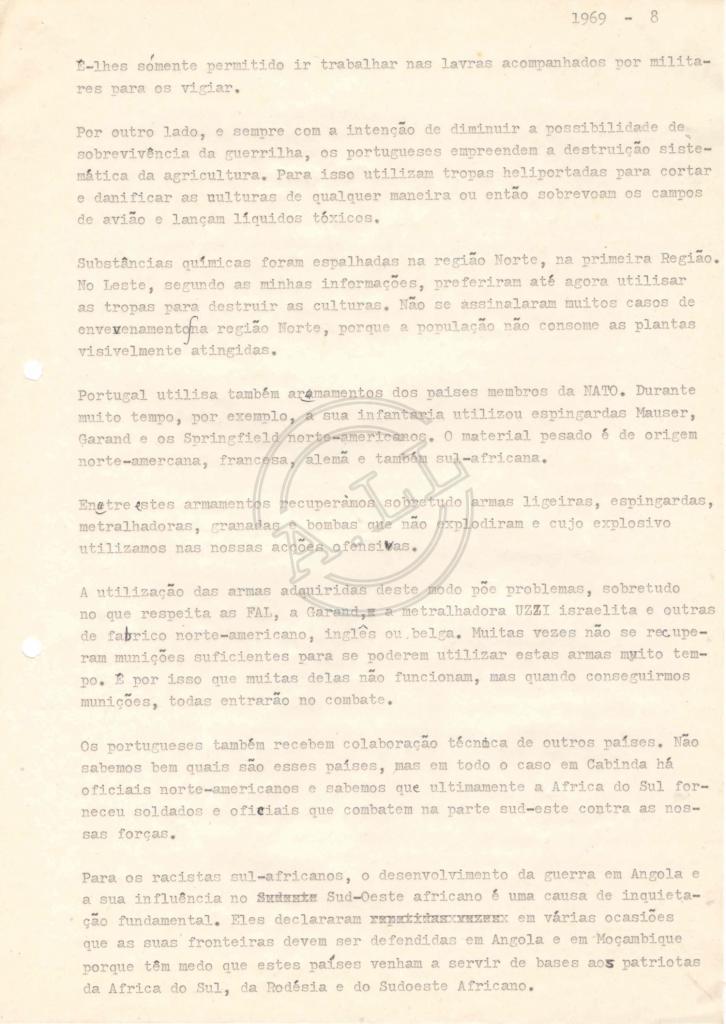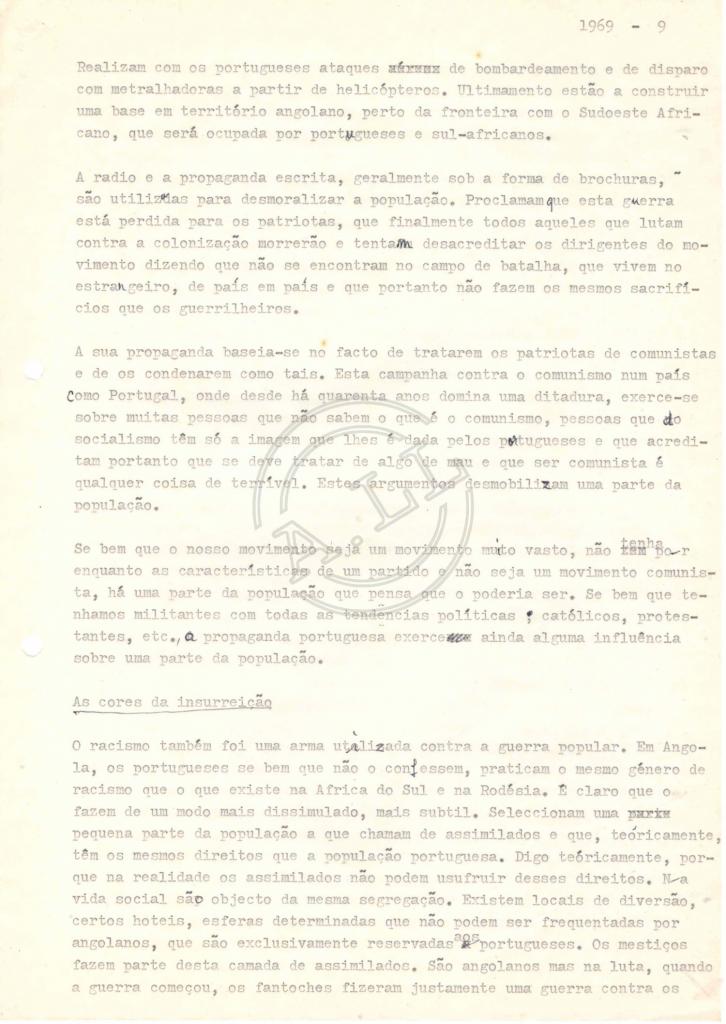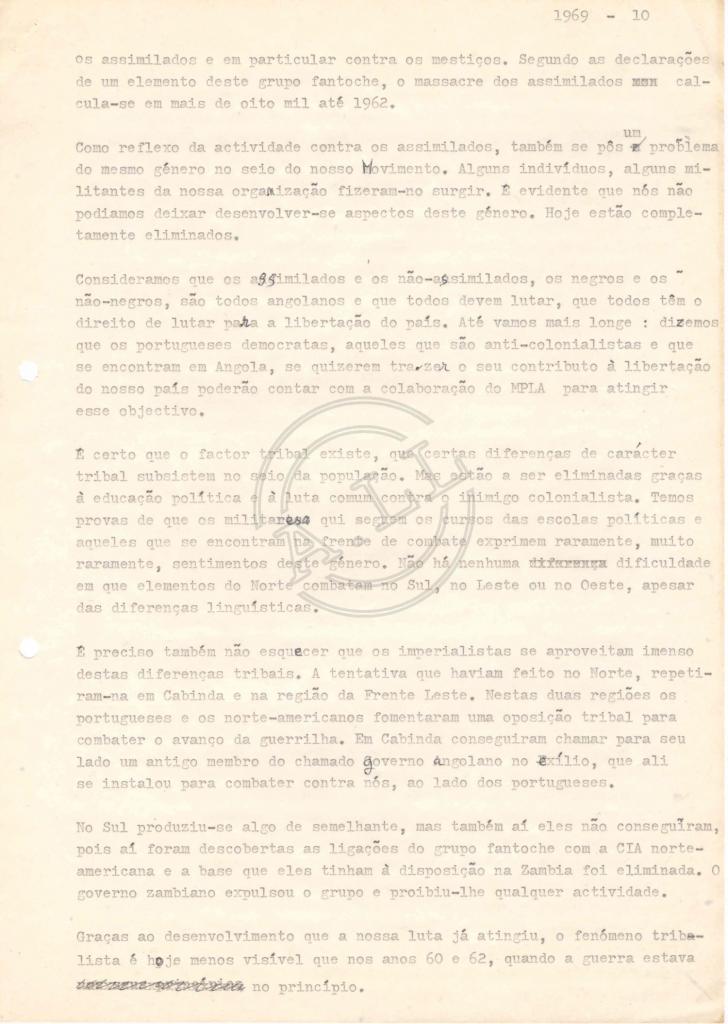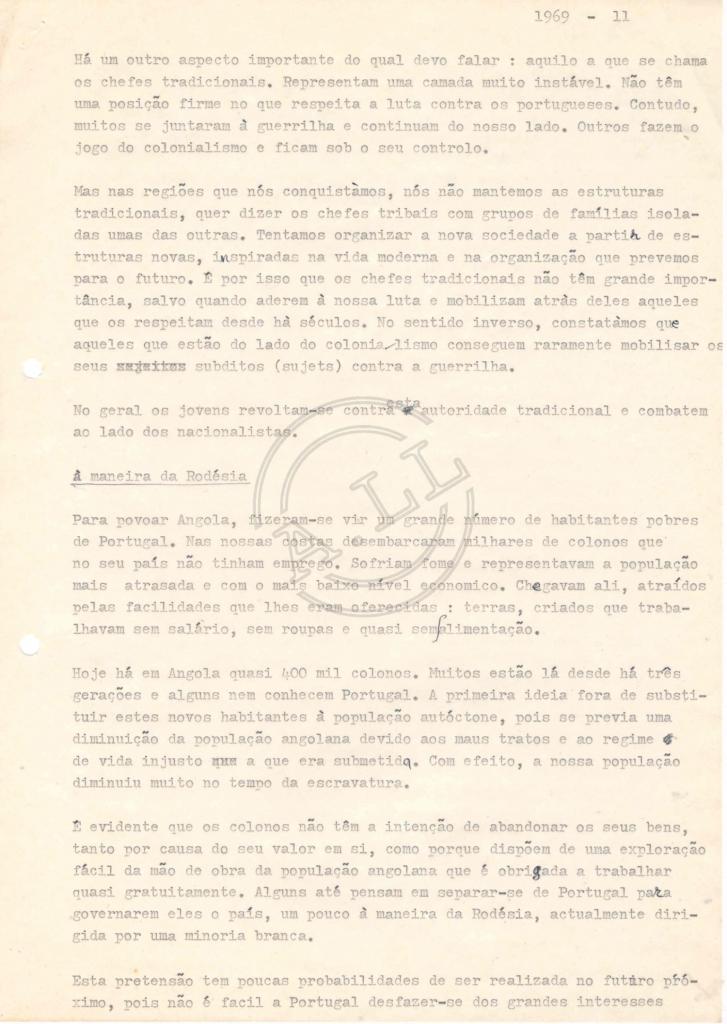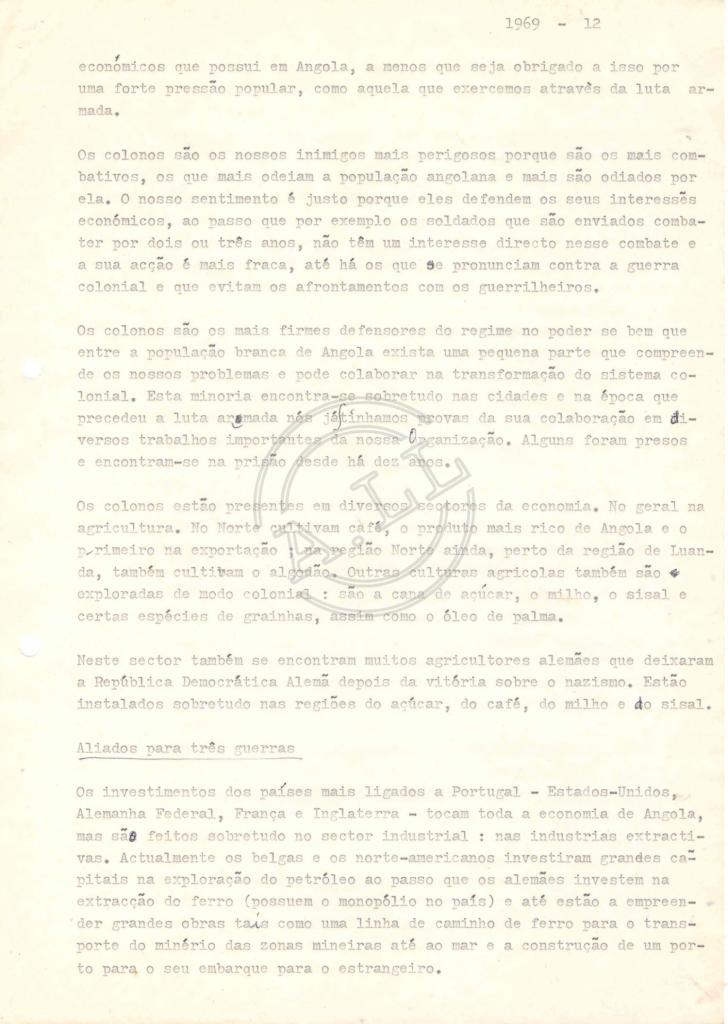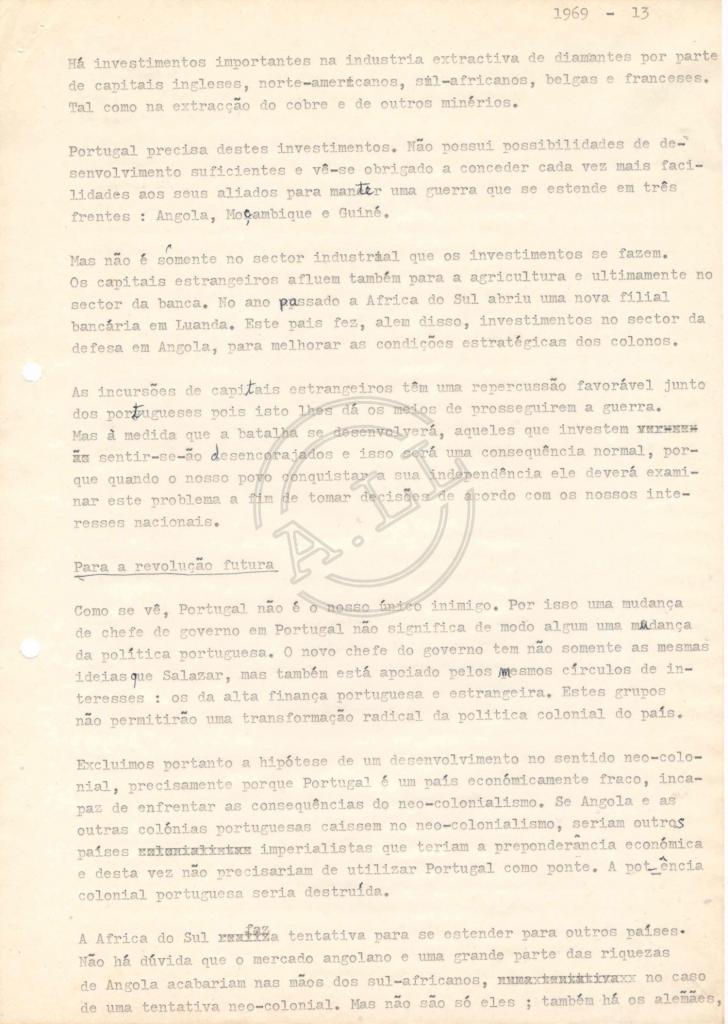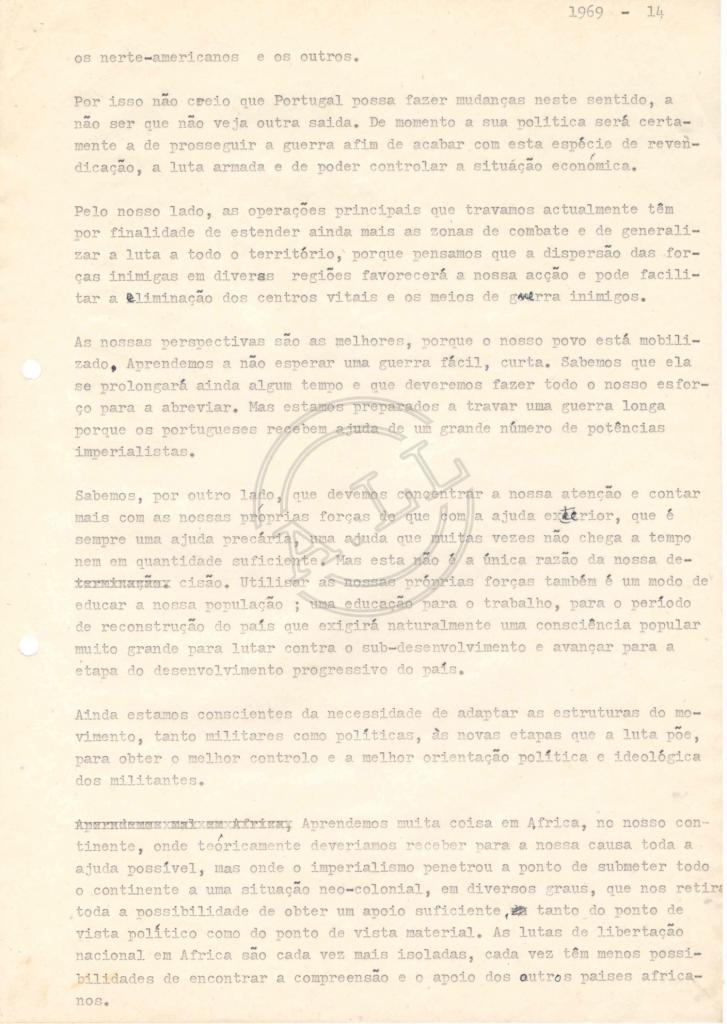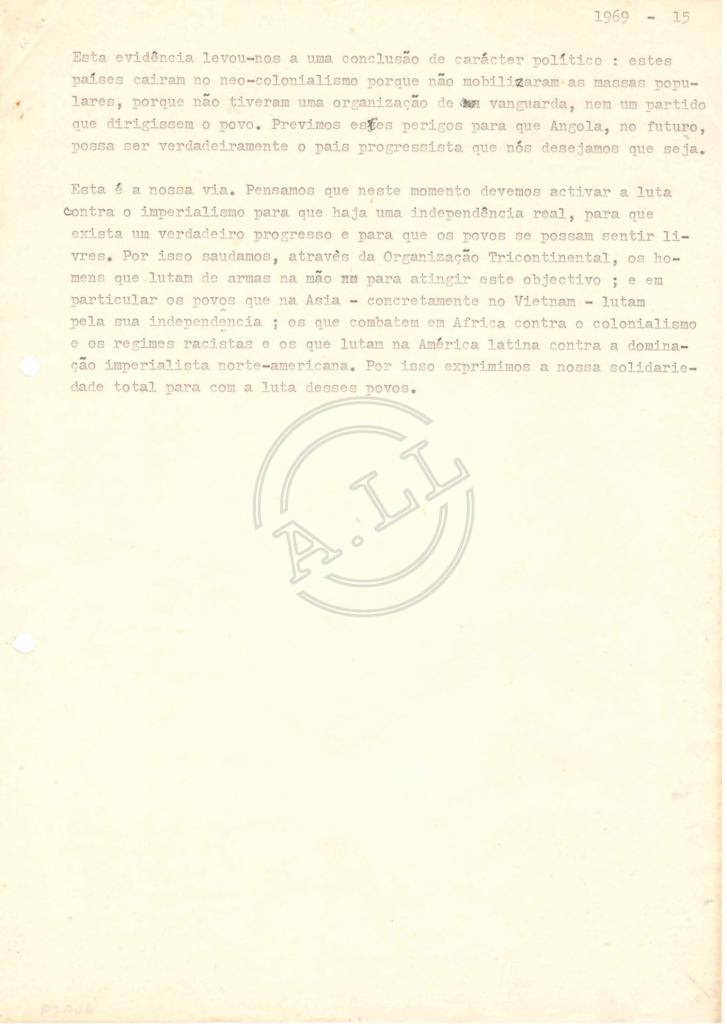Cota
0110.000.035
Tipologia
Texto de Análise
Impressão
Dactilografado
Suporte
Papel Comum
Autor
Agostinho Neto
Data
1969
Idioma
Conservação
Bom
Fundo
Imagens
15
Acesso
Público
1969 – Artigo Revista “TRICONTINENTAL” Nº 3 de 1969
(Traduzido do francês)
Angola: Um povo em revolução
A resistência do nosso povo contra a ocupação portuguesa não data de agora. Não é a primeira vez que o nosso povo se revolta contra a dominação portuguesa. Desde sempre, desde que os portugueses pisaram a costa africana, o nosso povo decidiu lutar contra eles, em particular quando a ocupação colonial tomou formas de uma crueldade extrema com a repressão militar que os portugueses foram obrigados a travar contra as populações angolanas, a fim de as obrigar a submeter-se à sua autoridade.
Há exemplos extraordinários dessa resistência contra os portugueses, tais como a Rainha N´Zinga que durou longos anos e as que se desenrolaram no sul e no norte do país. Mas o povo não estava unido: as guerras eram conduzidas por certos grupos étnicos determinados e, está claro, os portugueses aproveitaram a oportunidade para opor certos grupos a outros e para nos levar assim a perder o resultado que se esperava destas lutas.
Foi só a partir dos anos 20 que Portugal conseguiu dominar completamente o país. Contudo a resistência não cessou nessa altura. Simplesmente tomou formas novas, sobretudo nas cidades onde a população tinha mais contactos com os colonos, sofria mais directamente a segregação racial e a exploração económica e sentia por isso mais de perto, a injustiça da ocupação colonial. É nestas cidades que nasceram os primeiros movimentos, alguns de carácter literário, que procuravam mobilizar o povo contra o ocupante estrangeiro.
Assinalarei o movimento “Vamos descobrir Angola” que começou em Luanda; o Centro de Estudos Africanos, que foi fundado em Lisboa e outros grupos que utilizaram a literatura, a música e diversas formas de cultura popular que têm um grande efeito mobilizador no seio da população.
As formas literárias utilizadas, em particular a poesia, diferenciam-se do estilo europeu mais pelo seu conteúdo do que pela sua forma. Escrevia-se no geral em língua portuguesa, dado que os escritores tinham estudado em escolas portuguesas, mas o conteúdo marcava já uma ruptura total com a metrópole; através do protesto, demonstrava o carácter injusto da colonização e iniciativa o povo ao combate.
A acção começada nas cidades contaminou as zonas rurais e tornou-se evidente que era necessário criar organizações políticas que se diferenciassem dos agrupamentos regionais ou tribais anteriores, tomando um carácter nacional. Os militantes destas organizações políticas falavam em nome de Angola e não em nome de um grupo étnico determinado. A partir deste momento, por volta de 1950, com o aumento da politização, as proclamações e as inscrições nos muros contra os colonizadores, apareceu também a repressão da polícia, da PIDE, que prendeu numerosos militantes do nosso movimento, dos quais alguns ainda se encontram na prisão.
Muitos factos isolados poderiam ser citados, mas, em traços largos, foi o que sucedeu como elementos mais essenciais para o começo e a preparação de uma acção vigorosa que hoje se traduz pela luta armada.
Duas datas do MPLA
No princípio, devido à repressão policial, formaram-se diversos grupos políticos que prosseguiam um fim comum. Era em Luanda, na capital, que trabalhava a maioria deles. Os mais importantes foram o MINA (Movimento para a Independência Nacional de Angola) e o PLUA (Partido de Luta Unida de Angola). Da unificação destas organizações e de algumas outras nasceu o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), criado em Dezembro de 1956, quer dizer, há mais de doze anos.
Um facto que é preciso realçar, é a acção do 4 de Fevereiro de 1961, que marca o princípio da luta armada. Num momento em que a repressão tinha atingido o seu grau mais elevado e em que muitos camaradas se encontravam presos devido às suas actividades patrióticas, alguns militares do MPLA, em Luanda, decidiram atacar as prisões e os postos de polícia para libertar os prisioneiros.
Começou-se por atacar uma patrulha e recuperar as suas armas e com elas, atacaram-se os postos de polícia e as prisões. A operação não foi um sucesso total pois os prisioneiros não foram libertos, mas a partir desse momento o povo tomou consciência do imperativo da luta e os portugueses tiveram que fazer frente a uma situação inesperada, prelúdio das dificuldades perante as quais se iriam encontrar para manter a sua dominação.
Depois das primeiras acções, a parte do povo que se mostrou mais activa na luta armada foi a do Norte do país. A explicação deste facto reside na influência que a evolução política do Congo (K), recentemente liberto, exercia sobre esta região e a tornava mais entusiasta e mais decidida ao combate. A evolução política do Congo (K) incitava à obtenção de algo de idêntico para Angola e é essa a razão pela qual o Norte foi teatro das actividades mais importantes.
No Sul, até 1966, não houve combates de grande envergadura. Houve contudo pequenas acções em algumas cidades; mas de um modo desorganizado e desordenado.
O desenvolvimento da actividade revolucionária no Norte conheceu etapas críticas, sobretudo por causa da aparição de grupos fantoches, colaboradores dos imperialistas norte-americanos, que tentaram travar a luta popular contra o colonialismo. Não somente fomentaram o tribalismo (mobilizaram uma tribo perto da fronteira contra o grupo étnico mais próximo da capital, os Kikongos contra os Kimbundus), mas além disso opuseram à luta armada outras formas “não-violentas”: actividades estrictamente políticas que deviam, segundo eles, trazer frutos com a ajuda dos países africanos, por meio de conversações com os políticos portugueses.
O nosso movimento não permitiu que as coisas tomassem esta direcção e esta tendência que apareceu, vinda de Kinshasa, não atingiu o seu objectivo apesar de todo o apoio que recebeu deste país limítrofe que, devido a sua longa fronteira com Angola, teria podido dar uma grande ajuda à nossa luta de libertação. O MPLA prossegue os seus esforços para avançar e é actualmente a única força político-militar que luta no país.
As regiões onde se trava a guerra
O distrito de Cabinda, situado para além da fronteira Norte, foi incorporado na guerra por volta de 1964. Antes desta data encontrávamos dificuldades para realizar actividades a partir do Congo (Brazzaville), porque estava governado pelo regime reaccionário de Fulbert Youlou, estreitamente ligado ao imperialismo francês e mesmo aos portugueses.
Em 1963 a revolução triunfou no Congo (B) e a partir desse momento fomos autorizados a exercer ali algumas actividades que nos permitiram, através de uma pequena base, conseguir sublevar o distrito de Cabinda, bastante pequeno (cerca de 7000 km2 e apenas com 50 km de largura) e onde existe uma grande concentração de tropas portuguesas.
A Frente de Cabinda foi um elemento verdadeiramente útil para o nosso Movimento. Foi ali que se formaram muitos quadros, aí se fundou o primeiro Centro de Instrução Revolucionária e ali adquiriu uma experiência muito válida no que diz respeito aos métodos de direcção da guerra de guerrilha. A maior parte dos nossos comandantes foi formada neste território. Cabinda foi como que uma escola de onde saíram os elementos fundamentais para o desenvolvimento da luta noutras regiões.
Queria falar de novo da Frente Norte. Diz-se muitas vezes que se encontra isolada. É verdade em parte, porque os seus contactos são difíceis mas, para aqueles que lutam, as dificuldades devem ser vencidas a qualquer preço. E nós conseguimos vencer algumas. Durante um certo tempo não conseguimos abastecer a Frente Norte. Contudo, em 1956-66, enviamos para ali material de guerra e quadros que aumentaram o número dos militantes na região. Actualmente a frente desenvolve-se activamente e possui uma rica experiência de guerra que se desenvolverá não somente pela sua própria acção, mas também porque as vias de comunicação não estão completamente bloqueadas e porque utilizamos todos os meios para manter o contacto necessário.
É preciso que eu não esqueça os que povoam esta região e que, desde há nove anos, vivem nas florestas, sem medicamentos, com carência dos elementos essenciais para a sua alimentação, tais como sal, açúcar, óleo e que, por conseguinte, sofrem de doenças tais como a avitaminose, a anemia e infecções diversas, mas que, apesar de tudo, conservam um espírito de combate muito elevado.
A Frente Leste, por seu lado, reclama um trabalho de preparação política e militar intenso com os seus futuros participantes. Algumas centenas deles (não posso dizer o número exacto, mas creio que são mais de mil) foram treinados no estrangeiro e outros tantos no interior. Daí a acção começou por pequenos grupos no distrito do Moxico. As primeiras bases onde funcionaram os Centros de Instrução Política Revolucionária foram criadas e à medida que estes centros formavam quadros, a actividade da Frente de luta estendeu-se à terceira Região, que compreende os distritos de Moxico e de Cuando-Cubango.
Temos o hábito de falar muito da terceira Região por ser mais conhecida contudo, na realidade, já não é um local de combate; agora é controlada pelas nossas forças. A acção de guerrilha desenrola-se mais longe, atingiu outras zonas, com as duas que foram criadas à volta da Terceira. Uma ao Norte, que compreende os vastos distritos de Lunda e de Malanje há combates na parte sul destes distritos) e uma outra zona na parte oriental do distrito do Bié, que constitui a 5ª região político-militar.
O Cuando Cubango e o Moxico constituem agora a base sólida onde se faz a preparação militar e política dos guerrilheiros e o local onde a população leva uma vida quasi normal, em condições de guerra, e traz um grande apoio aos combatentes que se encontram mais longe, nas frentes situadas a uma centena de quilómetros da fronteira com a Zâmbia e que, por esta razão, são difíceis de abastecer a partir da terceira Região. Mas também ali há o povo. Numerosos são os habitantes desta região que tinham encontrado refúgio na Zâmbia, e que voltaram para Angola para trazer o seu contributo ao crescimento das outras Regiões.
A extensão destas linhas logísticas e as dificuldades de as manter em certos casos constituíram uma experiência digna de ser mencionada. Sabemos que não poderemos eternamente depender do exterior e que o abastecimento da guerrilha deverá ser feito de próprio interior do país. Não é possível nos nossos vastos territórios pensar num abastecimento que venha exclusivamente do exterior. Tenho a dizer que desse já os distritos que se encontram a mais de 500 km da fronteira com a Zâmbia, no Bié por exemplo, é necessário estabelecer uma certa autonomia na organização da vida dos guerrilheiros e da população civil para se subsistir e lutar contra os portugueses. Quer dizer que a palavra de ordem da necessidade de utilizar as forças que existem no local, as nossas forças, as do povo, é a que aplicamos cada vez mais, pois estamos convencidos que é assim que poderemos evitar os imponderáveis que se produzem quando o abastecimento chega do exterior.
É evidente que existe um certo tipo de material que não podemos deixar de pedir ao exterior, certos armamentos ou equipamentos que não fabricamos dado que o nosso povo ainda não desenvolveu nenhum ramo industrial. Não temos fábricas, nem sequer temos pequenas oficinas e esta situação força-nos a abastecermos, em certos produtos, fora das fronteiras angolanas.
Durante estes anos de luta, conflitos mais ou menos graves produziram-se também no seio das organizações políticas.
Por volta de 1963, exactamente na ápoca em que o governo do Congo (K) expulsou o nosso movimento e em que nos encontramos sem base de apoio no exterior, quando a actividade contra-revolucionária que exercia o núcleo fantoche de que já falei estava no seu apogeu, conhecemos um período de grandes dificuldades. Os elementos menos conscientes separaram-se e procuraram compromissos com o governo da República do Congo (K) e mesmo com os fantoches ao serviço do imperialismo. Os outros militantes e uma parte da nossa direcção progressiva a luta e transferiram a sua sede para Brazzaville e começaram a luta armada em Cabinda.
E, como as coisas não são tão simples, também aí os elementos de ordem ideológica jogaram o seu papel. Noutros termos, os conflitos ideológicos que existem hoje entre os países socialistas introduziram-se nessa altura no nosso movimento e serviram de base para discussão nos momentos de crise.
Estas divergências acabaram, não somente devido à acção armada que se impôs, mas também devido a decisões de carácter político que tomámos no decurso de várias conferências e assembleias. Estas decisões foram que era necessário, na nossa organização, ter uma linha política, uma orientação clara quanto aos objectivos a atingir, a ideologia a seguir, que era preciso manter uma linha independente a qualquer influência estrangeira, traçada pelos militantes e adaptada às condições reais do país.
Graças a esta atitude que preservava a nossa independência política, eliminámos muitas dificuldades.
Guerrilha e contra-guerrilha
Os portugueses aprenderam as mesmas tácticas que as empregues pelos países da NATO que fazem a contra-guerrilha. Tiraram cursos em França e nos Estados Unidos da América e têm as experiências da Argélia ou do Vietnam de que se servem na acção militar e na guerra psicológica.
No princípio da guerra, em 1961, Portugal foi surpreendido. Não esperava o desenvolvimento da luta armada e por isso recuou nas zonas de combate onde não tinha tropas, mas unicamente comerciantes, polícias e autoridades administrativas. A região do Norte ficou, durante seis meses, semi-abandonada pelos portugueses; só lá ficaram algumas autoridades administrativas. Os comerciantes, todos aqueles que se encontravam nas plantações de café e de madeira fugiram dessas localidades e procuraram refúgio na capital. Algumas até foram para Lisboa.
Nesta época não havia muitos soldados portugueses. A maior parte do exército era construída por angolanos. Não me recordo dos números exactos, mas não penso enganar-me se disser que havia 25 mil soldados. Actualmente há mais de 70 mil.
Com a chegada do grosso das tropas portuguesas a forma de combate mais utilizada pela guerrilha foi a emboscada. Nos numerosos foram os inimigos que caíram nelas, até que começaram a reagir de outro modo. Agora avançam em grandes colunas, por vezes acompanhados por tropas de infantaria, bombardeiros e helicópteros. Nestes casos, fazem-se emboscadas, destroem-se veículos, aniquilam-se as forças vivas do inimigo, mais no que respeita a recuperação do material é extremamente difícil. É necessária uma grande concentração de guerrilheiros para recuperar os armamentos quando há grandes colunas e que os aviões bombardeiam o raio de acção.
Pudemos verificar, pela experiência prática, que quando atacamos os quartéis, os portugueses quase que não se defendem. Contentam-se em se abrigar em refúgios muito bem construídos e permitem-nos disparar tanto quanto quisermos, até ao esgotamento das munições e nessa altura somos obrigados a retirar-nos. É a táctica da resistência passiva.
Como ainda não possuímos material pesado para destruir esses refúgios e realizar acções ofensivas eficazes contra eles, os soldados portugueses conseguem sobreviver. O ataque aos quartéis ainda não foi eficaz até agora por falta de armamento adequado.
O camarada Henda, que estava encarregado da coordenação da Comissão militar e foi o comandante mais corajoso e mais qualificado da nossa organização, foi morto durante um desses ataques. Ele próprio comandara o assalto contra o quartel onde foi utilizada a táctica que acabo de mencionar. Quando os nossos combatentes penetraram no quartel, os portugueses abriram o fogo contra eles e Henda tombou. Quando tivermos as armas necessárias, esta resistência passiva não servirá mais. Serão obrigados a defender-se e a engajar o combate corpo a corpo.
Os bombardeamentos são uma outra das tácticas empregues pelo inimigo, sobretudo nas primeira e terceira Regiões que, como estão completamente controladas pela guerrilha, não deixam os portugueses circular pelas estradas. Executam intensos bombardeamentos das aldeias, das bases do nosso movimento, por vezes seguidos de ataques terrestres por tropas aerotransportadas. Trazem-nas para perto das bases e daí atacam por surpresa, imediatamente depois do bombardeamento; retirando-se em seguida.
Até agora as forças portuguesas não conseguiram estabelecer praças-fortes nas regiões dominadas pelo MPLA. A cada tentativa respondemos com um ataque e como não conseguem apoderar-se de posições novas, mantêm-se nas suas bases antigas, bem defendidas, onde têm grandes quantidades de soldados.
Quanto à população, os portugueses fazem o mesmo que os Norte-americanos no Vietnam: constroem aldeamentos onde concentram a população, com o objectivo de a retirar à guerra, para evitar que ela apoie a guerrilha. Os habitantes destes aldeamentos são controlados, não se podem afastar.
É-lhes somente permitido ir trabalhar nas lavras acompanhados por militares para os vigiar.
Por outro lado, e sempre com a intenção de diminuir a possibilidade de sobrevivência da guerrilha, os portugueses empreendem a destruição sistemática da agricultura. Para isso utilizam tropas heliportadas para cortar e danificar as culturas de qualquer maneira ou então sobrevoam os campos de avião e lançam líquidos tóxicos.
Substâncias químicas foram espelhadas na região Norte, na primeira Região. No Leste, segundo as minhas informações, preferiram até agora utilizar as tropas para destruir as culturas. Não se assinalaram muitos casos de envenenamento na região Norte, porque a população não consome as plantas visivelmente atingidas.
Portugal utiliza também armamentos dos países membros da NATO. Durante muito tempo, por exemplo, a sua infantaria utilizou espingardas Mauser, Garand e os Springfield norte-americanos. O material pesado é de origem norte-americana, francesa, alemã e também sul-africana.
Entre estes armamentos recuperamos sobretudo armas ligeiras, espingardas, metralhadoras, granadas e bombas que não explodiram e cujo explosivo utilizamos nas nossas acções ofensivas.
A utilização das armas adquiridas deste modo põe problemas, sobretudo no que respeita as FAL, a Garand, a metralhadora UZZI israelita e outras de fabrico norte-americano, inglês ou belga. Muitas vezes não se recuperam munições suficientes para se poderem utilizar estas armas muito tempo. É por isso que muitas delas não funcionam, mas quando conseguirmos munições, todas entrarão no combate.
Os portugueses também recebem colaboração técnica de outros países. Não sabemos bem quais são esses países, mas em todo o caso em Cabinda há oficiais norte-americanos e sabemos que ultimamente a África do Sul forneceu soldados e oficiais que combatem na parte sud-este contra as nossas forças.
Para os racistas sul-africanos, o desenvolvimento da guerra em Angola e a sua influência no Sud-Oeste africano é uma causa de inquietação fundamental. Eles declararam em várias ocasiões que as suas fronteiras devem ser defendidas em Angola e em Moçambique porque têm medo que estes países venham a servir de bases aos patriotas da África do Sul, da Rodésia e do Sudoeste Africano.
Realizam com os portugueses ataques de bombardeamento e de disparo com metralhadoras a partir de helicópteros. Ultimamente estão a construir uma base em território angolano, perto da fronteira com o Sudoeste Africano, que será ocupada por portugueses e sul-africanos.
A rádio e a propaganda escrita, geralmente sob a forma de brochuras, são utilizadas para desmoralizar a população. Proclamaram que esta guerra está perdida para os patriotas, que finalmente todos aqueles que lutam contra a colonização morrerão e tentam desacreditar os dirigentes do movimento dizendo que não se encontram no campo de batalha, que vivem no estrangeiro, de país em país e que portanto não fazem os mesmos sacrifícios que os guerrilheiros.
A sua propaganda baseia-se no facto de tratarem os patriotas de comunistas e de os condenarem como tais. Esta campanha contra o comunismo num país como Portugal, onde desde há quarenta anos domina uma ditadura, exerce-se sobre muitas pessoas que não sabem o que é o comunismo, pessoas que do socialismo têm só a imagem que lhes é dada pelos portugueses e que acreditam portanto que se deve tratar de algo de mau e que ser comunista é qualquer coisa de terrível. Estes argumentos desmobilizam uma parte da população.
Se bem que o nosso movimento seja um movimento muito vasto, não tenha por enquanto as características de um partido e não seja um movimento comunista, há uma parte da população que pensa que o poderia ser. Se bem que tenhamos militantes com todas as tendências políticas; católicos, protestantes, etc., a propaganda portuguesa exerce ainda alguma influência sobre uma parte da população.
As cores da insurreição
O racismo também foi uma arma utilizada contra a guerra popular. Em Angola, os portugueses se bem que não o confessem, praticam o mesmo género de racismo que o que existe na África do Sul e na Rodésia. É claro que o fazem de um modo mais dissimilado, mais subtil. Seleccionam uma pequena parte da população a que chamam de assimilados e que, teoricamente têm os mesmos direitos que a população portuguesa. Digo teoricamente, porque na realidade os assimilados não podem usufruir desses direitos. Na vida social são objecto da mesma segregação. Existem locais de diversão, certos hotéis, esferas determinadas que não podem ser frequentadas por angolanos, que são exclusivamente reservadas aos portugueses. Os mestiços fazem parte desta camada de assimilados. São angolanos mas na luta, quando a guerra começou, os fantoches fizeram injustamente uma guerra contra os assimilados e em particular contra os mestiços. Segundo as declarações de um elemento deste grupo fantoche, o massacre dos assimilados calcula-se em mais de oito mil até 1962.
Como reflexo da actividade contra os assimilados, também se pôs um problema do mesmo género no seio do nosso Movimento. Alguns indivíduos, alguns militantes da nossa organização fizeram-no surgir é evidente que nós não podíamos deixar desenvolver-se aspectos deste género. Hoje estão completamente eliminados.
Consideramos que os assimilados e os não-assimilados, os negros e os não-negros, são todos angolanos e que todos devem lutar, que todos têm o direito de lutar para a libertação do país. Até vamos mais longe: dizemos que os portugueses democratas, aqueles que são anti-colonialistas e que se encontram em Angola, se quiserem trazer o seu contributo à libertação do nosso país poderão contar com a colaboração do MPLA para atingir esse objectivo.
É certo que o factor tribal existe, que certas diferenças de carácter tribal subsistem no seio da população. Mas estão a ser eliminadas graças à educação política e à luta comum contra o inimigo colonialista. Temos provas de que os militares aqui seguem os cursos das escolas políticas e aqueles que se encontram na frente de combate exprimem raramente, muito raramente, sentimentos deste género. Não há nenhuma dificuldade em que elementos do Norte combatam no Sul, no Leste ou no Oeste, apesar das diferenças linguísticas.
É preciso também não esquecer que os imperialistas se aproveitam imenso destas diferenças tribais. A tentativa que haviam feito no Norte, repetiram-na em Cabinda e na região da Frente Leste. Nestas duas regiões os portugueses e os norte-americanos fomentaram uma oposição tribal para combater o avanço da guerrilha. Em Cabinda conseguiram chamar para seu lado um antigo membro do chamado governo angolano no Exílio, que ali se instalou para combater contra nós, ao lado dos portugueses.
No Sul produziu-se algo de semelhante, mas também aí eles não conseguiram, pois aí foram descobertas as ligações do grupo fantoche com a CIA norte-americana e a base que eles tinham à disposição na Zâmbia foi eliminada. O governo zambiano expulsou o grupo e proibiu-lhe qualquer actividade.
Graças ao desenvolvimento que a nossa luta já atingiu, o fenómeno tribalista é hoje menos visível que nos anos 60 e 62, quando a guerra estava no princípio.
Há um outro aspecto importante do qual devo falar: aquilo a que se chama os chefes tradicionais. Representam uma camada muito instável. Não têm uma posição firme no que respeita a luta contra os portugueses. Contudo, muitos se juntaram à guerrilha e continuam do nosso lado. Outros fazem o jogo do colonialismo e ficam sob o seu controlo.
Mas nas regiões que nós conquistamos, nós não mantemos as estruturas tradicionais, quer dizer os chefes tribais com grupos de famílias isoladas umas das outras. Tentamos organizar a nova sociedade a partir de estruturas novas, inspiradas na vida moderna e na organização que prevemos para o futuro. É por isso que os chefes tradicionais não têm grande importância, salvo quando aderem à nossa luta e mobilizam atrás deles aqueles que os respeitam desde há séculos. No sentido inverso, constatámos que aqueles que estão do lado do colonialismo conseguem raramente mobilizar os seus subtidos (sujets) contra a guerrilha.
No geral os jovens revoltaram-se contra esta autoridade tradicional e combatem ao lado dos nacionalistas.
À maneira da Rodésia
Para povoar Angola, fizeram-se vir um grande número de habitantes pobres de Portugal. Nas nossas costas desembarcaram milhares de colonos que no seu país não tinham emprego. Sofriam fome e representavam a população mais atrasada e com o mais baixo nível económico. Chegavam ali, atraídos pelas facilidades que lhes eram oferecidas; terras, criados que trabalhavam sem salário, sem roupas e quase sem alimentação.
Hoje há em Angola quase 40 mil colonos. Muitos estão lá desde há três gerações e alguns nem conhecem Portugal. A primeira ideia fora de substituir estes novos habitantes à população autóctone, pois se previa uma diminuição da população angolana devido aos maus tratos e ao regime de vida injusto a que era submetida. Com efeito, a nossa população diminuiu muito no tempo da escravatura.
É evidente que os colonos não têm a intenção de abandonar os seus bens, tanto por causa do seu valor em si, como porque dispõem de uma exploração fácil de mão de obra da população angolana que é obrigada a trabalhar quase gratuitamente. Alguns até pensam em separar-se de Portugal para governarem eles o país, um pouco à maneira da Rodésia, actualmente dirigida por uma minoria branca.
Esta pretensão tem poucas probabilidades de ser realizada no futuro próximo, pois não é fácil a Portugal desfazer-se dos grandes interesses económicos que possuí Angola, a menos que seja obrigado a isso por uma forte pressão popular, como aquela que exercemos através da luta armada.
Os colonos são os nossos inimigos mais perigosos porque são os mais combativos, os que mais odeiam a população angolana e mais são odiados por ela. O nosso sentimento é justo porque eles defendem os seus interesses económicos, ao passo que por exemplo os soldados que são enviados combater por dois ou três anos, não têm um interesse directo nesse combate e a sua acção é mais fraca, até há os que se pronunciam contra a guerra colonial e que evitam os afrontamentos com os guerrilheiros.
Os colonos são os mais firmes defensores do regime no poder se bem que entre a população branca de Angola exista uma pequena parte que compreende os nossos problemas e pode colaborar na transformação do sistema colonial. Esta minoria encontra-se sobretudo nas cidades e na época que precedeu a luta armada nós já tínhamos provas da sua colaboração em diversos trabalhos importantes da nossa Organização. Alguns foram presos e encontram-se na prisão desde há dez anos.
Os colonos estão presentes em diversos sectores da economia. No geral na agricultura. No Norte cultivam café, o produto mais rico de Angola e o primeiro na exportação; na região Norte ainda, perto da região de Luanda, também cultivam o algodão. Outras culturas agrícolas também são exploradas de modo colonial: são a cana de açúcar, o milho, o sisal e certas espécies de grainhas, assim como o óleo de palma.
Neste sector também se encontram muitos agricultores alemães que deixaram a República Democrática Alemã depois da vitória sobre o nazismo. Estão instalados sobretudo nas regiões do açúcar, do café, do milho e do sisal.
Aliados para três guerras
Os investimentos dos países mais ligados a Portugal – Estados-Unidos, Alemanha Federal, França e Inglaterra – tocam toda a economia de Angola, mas são feitos sobretudo no sector industrial: nas indústrias extractivas. Actualmente os belgas e os norte-americanos investiram grandes capitais na exploração do petróleo ao passo que os alemães investem na extracção do ferro (possuem o monopólio no país) e até estão a empreender grandes obras tais como uma linha de caminho de ferro para o transporte do minério das zonas mineiras até ao mar e a construção de um porto para o seu embarque para o estrangeiro.
Há investimentos importantes na indústria extractiva de diamantes por parte de capitais ingleses, norte-americanos, sul-africanos, belgas e franceses. Tal como na extensão do cobre e de outros minérios.
Portugal precisa destes investimentos. Não possui possibilidades de desenvolvimento suficientes e vê-se obrigado a conhecer cada vez mais facilidades aos seus aliados para manter uma guerra que se estende em três frentes: Angola, Moçambique e Guiné.
Mas não é somente no sector industrial que os investimentos se fazem. Os capitais estrangeiros afluem também para a agricultura e ultimamente no sector da banca. No ano passado a África do Sul abriu uma nova filial bancária em Luanda. Este país fez, além disso, investimentos no sector da defesa em Angola, para melhorar as condições estratégicas dos colonos.
As incursões de capitais estrangeiros têm uma repressão favorável junto dos portugueses pois isto lhes dá os meios de prosseguirem a guerra. Mas à medida que a batalha se desenvolverá, aqueles que investem sentir-se-ão desencorajados e isso será uma consequência normal, porque quando o nosso povo conquistar a sua independência ele deverá examinar este problema a fim de tomar decisões de acordo com os nossos interesses nacionais.
Para a revolução futura
Como se vê, Portugal não é o nosso único inimigo. Por isso uma mudança de chefe de governo em Portugal não significa de modo algum uma mudança da política portuguesa. O novo chefe do governo tem não somente as mesmas ideias que Salazar, mas também está apoiado pelos mesmos círculos de interesses: os da alta finança portuguesa e estrangeira. Estes grupos não permitirão uma transformação radical da política colonial do país.
Excluímos portanto a hipótese de um desenvolvimento no sentido neocolonial, precisamente porque Portugal é um país economicamente fraco, incapaz de enfrentar as consequências do neo-colonialismo. Se Angola e as outras colónias portuguesas caíssem no neo-colonialismo, seriam outros países imperialistas que teriam a preponderância económica e desta vez não precisariam de utilizar Portugal como ponte. A potência colonial portuguesa seria destruída.
A África do Sul faz tentativa para se estender para outros países. Não há dúvidas que o mercado angolano e uma grande parte das riquezas de Angola acabariam nas mãos dos sul-africanos, no caso de uma tentativa neo-colonial. Mas não são só eles; também há os alemães, os norte-americanos e os outros.
Por isso não creio que Portugal possa fazer mudanças neste sentido, a não ser que não veja outra saída. De momento a sua política será certamente a de prosseguir a guerra afim de acabar com esta espécie de revindicação económica, a luta armada e de poder controlar a situação económica.
Pelo nosso lado, as operações principais que travamos actualmente têm por finalidade de estender ainda mais as zonas de combate e de generalizar a luta a todo o território, porque pensamos que a dispersão das forças inimigas em diversas regiões favorecerá a nossa acção e pode facilitar a eliminação dos centros vitais e os meios de guerra inimigos.
As nossas perspectivas são as melhores, porque o nosso povo está mobilizado. Aprendamos a não esperar uma guerra fácil, curta. Sabemos que ela se prolongará ainda algum tempo e que deveremos fazer todo o nosso esforço para a abreviar. Mas estamos preparados a travar uma guerra longa porque os portugueses recebem ajuda de um grande número de potências imperialistas.
Sabemos, por outro lado, que devemos concentrar a nossa atenção e contar mais com as nossas próprias forças do que com a ajuda exterior, que é sempre uma ajuda precária, uma ajuda que muitas vezes não chaga a tempo nem em quantidade suficiente. Mas esta não é a única razão da nossa decisão. Utilizar as nossas próprias forças também é um modo de educar a nossa população; uma educação para o trabalho, para o período de reconstrução do país que exigirá naturalmente de uma consciência popular muito grande para lutar contra o sub-desenvolvimento e avançar para a etapa do desenvolvimento progressivo do país.
Ainda estamos conscientes da necessidade de adaptar as estruturas do movimento, tanto militares como políticas, às novas etapas que a luta põe, para obter o melhor controle e a melhor orientação política e ideológica dos militantes.
Aprendemos muita coisa em África, no nosso continente, onde teoricamente deveríamos receber para a nossa causa toda a ajuda possível, mas onde o imperialismo penetrou a ponto de submeter todo o continente a uma situação neo-colonial, em diversos graus, que nos retira toda a possibilidade de obter um apoio suficiente, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista material. As lutas de libertação nacional em África são cada vez mais isoladas, cada vez mais têm menos possibilidades de encontrar a compreensão e o apoio dos outros países africanos.
Esta evidência levou-nos a uma conclusão de carácter político: estes países caíram no neo-colonialismo porque não mobilizaram as massas populares, porque não tiveram uma organização de vanguarda, nem um partido que dirigissem o povo. Prevíamos estes perigos para que Angola, no futuro, possa ser verdadeiramente o país progressista que nós desejamos que seja.
Esta é a nossa via. Pensamos que neste momento devemos activar a luta contra o imperialismo para que haja uma independência real, para que exista um verdadeiro progresso e para que os povos se possam sentir livres. Por isso saudamos, através da Organização Tricontinental, os homens que lutam de armas na mão para atingir este objectivo; e em particular os povos que na Ásia – concretamente no Vietnam – lutam pela sua independência; os que combatem em África contra o colonialismo e os regimes racistas e os que lutam na América latina contra a dominação imperialista norte-americana. Por isso exprimimos a nossa solidariedade total para com a luta desses povos.
Tradução do artigo de Agostinho Neto ao Tricontinental, nº3. 1969 (de Ruth Lara) (Março 1969
A publicação, total ou parcial, deste documento exige prévia autorização da entidade detentora.